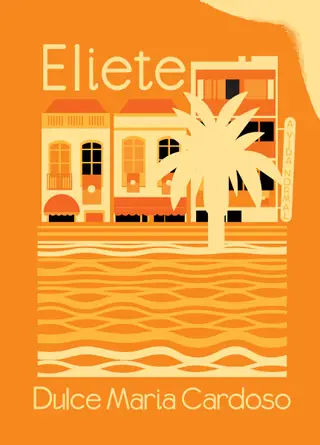No primeiro caso, foi arrasado o mais emblemático edifício de Luanda.
Uma obra de interesse publico, social e paisagístico, na moderna e humana arquitectura.
No segundo, preservou-se este, igualmente magnifico, edifício, também porque serve os
fins políticos. Lamentável.
2. Rádio Nacional de Angola (ex- Emissora Oficial de Angola)

Mercado Municipal do Kinaxixe/Kinaxixi (Quinaxixe)
Mercado Municipal do Kinaxixe/Kinaxixi (Quinaxixe)
Luanda [São Paulo de Luanda], Luanda, Angola
Equipamentos e infraestruturas
O Mercado do Kinaxixe (1950-1958), demolido em 2008, constituía uma referência do movimento moderno em Luanda correspondendo à primeira obra desenhada por Vasco Vieira da Costa (1911-1982) depois do estágio realizado em Paris no atelier de Le Corbusier. O projecto responde à encomenda do Governador-Geral de Angola, Capitão José Agapito da Silva Carvalho, e será desenvolvido entre 1950 e 1952 por Vasco Vieira da Costa, no âmbito das suas funções como arquitecto municipal, na zona alta da cidade: junto ao Museu Nacional de História Natural de Angola (1956) e do cinema Miramar (1964), onde surgirá no início dos anos 50 o bloco “Edifício Cuca” (demolido em 2011), do arquitecto Luís Taquelim da Silva.
É também nos anos 50 que Vasco Vieira da Costa elabora o Plano para a Baía de Luanda desenhando uma linha de edifícios que limitam o crescimento da cidade e, simultaneamente a abrem para a baía através da criação de uma extensa galeria ao nível do piso térreo que marca o embasamento criando um espaço de transição e um percurso confortável. O Mercado do Kinaxixe será um dos edifícios desenhado nos anos 50 que transformará a cidade de Luanda, organizando o espaço circundante com a sua geometria simples e reinventando o lugar.
Situado no Largo do Kinaxixe, área de expansão da cidade, o Mercado funcionou como um instrumento estruturante da área de expansão urbana de Luanda para Norte localizando-se no cruzamento de vias relevantes na organização da cidade, como a Avenida Comandante Valódia e a Rua Gamal Abdel Nasser, definindo-as, e limitando a fachada do largo do Kinaxixe, como um espaço público de encontro.
O Mercado do Kinaxixe afirmava-se como um edifício monumental paralelepipédico elevado do chão, cuja continuidade com a cidade era garantida através do piso térreo ajustado à topografia: pé direito duplo a nascente e piso intermédio a poente. Recuado em três lados, o piso térreo é desenhado com recurso a uma estrutura porticada de duplo pé direito, ocupado por espaços comerciais em relação directa com a cidade, o recuo relativamente ao plano da fachada protegia-os do sol. Na fachada Norte, o piso térreo avança para o limite da fachada e é desenhada uma rampa de acesso ao piso intermédio.
A planta de forma rectangular com 100 metros de comprimento por 60 metros de largura conforma dois pátios, em cotas distintas devido à inclinação do terreno, e em volta dos quais Vasco Vieira da Costa organiza todo o programa. No piso térreo os espaços comerciais virados para a cidade e os armazéns e serviços virados para o interior dos pátios, e no piso superior a área destinada à venda de produtos constituída por galerias de 6,5 metros de pé direito onde se localizavam as bancas fixas que organizavam o espaço.
Entre os dois pátios, no centro da composição, localizavam-se as entradas no Mercado, e organizavam-se as circulações verticais, escadas e elevadores, desde a cave até à cobertura em terraço, marcado por elementos escultóricos modernos, com vista sobre a cidade.
A pele exterior contínua definida por um brise-soleil de elementos verticais de betão assegurava a ventilação e o sombreamento de toda a galeria comercial no 1º piso, cuja continuidade era quebrada pela introdução linhas diagonais, rasgos horizontais, volumes escultóricos ou caixas de betão revestidas com pastilha vidrada de grande diversidade cromática.
Esta obra confirma a pesquisa de Vasco Vieira da Costa procede numa arquitectura capaz de responder eficazmente às condições climáticas procurando uma ventilação permanente aliada a um sombreamento dos espaços potenciando soluções formais expressivamente modernas. De acordo com Manuel Correia Fernandes, o Mercado do Kinaxixe “representou a síntese do Movimento Moderno na época da sua construção, e por isso considerado o ex-libris da arquitectura moderna em Angola. Foi, ainda, o “grito de liberdade” que, desafiando o regime colonial, impôs uma nova postura arquitectónica. Foi demolido em Agosto em 2008, com grande mágoa dos luandenses, que se habituaram a ver e a sentir esse “grito de liberdade”.”
Original de Maria João Teles Grilo
(FCT: PTDC/AUR-AQI/103229/2008)
Adaptação de Ana Tostões e Daniela Arnaut.
"Kinaxixe O mercado que era um símbolo de Luanda já não existe
Autor do texto 22 de Setembro de 2008, 0:00
Entre as décadas de 40 e 60, vários arquitectos formados em Portugal construíram edifícios modernos em Angola. Aquele que era provavelmente o mais emblemático de todos, o Mercado do Kinaxixe, foi demolido e no seu lugar vai nascer um centro comercial com seis pisos e duas torres. Mas há outros exemplos desse "modernismo tropical". Por Alexandra Prado Coelho
Rádio Nacional de Angola (ex- Emissora Oficial de Angola)

Rádio Nacional de Angola (antigo Centro de Radiodifusão de Angola)
Rádio Nacional de Angola
Luanda [São Paulo de Luanda], Luanda, Angola
Equipamentos e infraestruturas
Edifício desenhado e construído entre 1963 e 1967, segundo projeto do arquiteto Fernão Lopes Simões de Carvalho, com colaboração de José Pinto da Cunha e Fernando Alfredo Pereira. Representa, sem margem de dúvida, a liberdade conceptual da linguagem arquitetónica do Movimento Moderno. Os espaços vão‐se multiplicando entre ambientes abertos, com jardins interiores e água, elementos fundamentais de conforto. A entrada principal é ensombrada por uma arrojada pala em betão, elemento de grande impacto visual.
Localizado na parte alta da cidade, foi projetado como um conjunto de edifícios autónomos, apenas parcialmente edificado, tendo no bloco de estúdios o seu elemento referencial. Dimensionado segundo as regras do Modulor, este vasto prisma de um piso tem a cobertura pontuada por volumes salientes e vazios correspondentes a pátios de iluminação e ventilação. As suas fachadas denotam a influência da arquitetura de Le Corbusier na expressividade do betão aparente e no jogo de luz e sombra protagonizado pelos profundos brise‐soleil de composição dominantemente vertical ou em malha alternada de lâminas verticais e horizontais. Nas instalações existentes funciona atualmente a Rádio Nacional de Angola.
Elisiário Miranda
1. Mercado Municipal do Kinaxixe/Kinaxixi (Quinaxixe)
2. Rádio Nacional de Angola (ex- Emissora Oficial de Angola)
Mercado Municipal do Kinaxixe/Kinaxixi (Quinaxixe)
Mercado Municipal do Kinaxixe/Kinaxixi (Quinaxixe)
Luanda [São Paulo de Luanda], Luanda, Angola
Equipamentos e infraestruturas
O Mercado do Kinaxixe (1950-1958), demolido em 2008, constituía uma referência do movimento moderno em Luanda correspondendo à primeira obra desenhada por Vasco Vieira da Costa (1911-1982) depois do estágio realizado em Paris no atelier de Le Corbusier. O projecto responde à encomenda do Governador-Geral de Angola, Capitão José Agapito da Silva Carvalho, e será desenvolvido entre 1950 e 1952 por Vasco Vieira da Costa, no âmbito das suas funções como arquitecto municipal, na zona alta da cidade: junto ao Museu Nacional de História Natural de Angola (1956) e do cinema Miramar (1964), onde surgirá no início dos anos 50 o bloco “Edifício Cuca” (demolido em 2011), do arquitecto Luís Taquelim da Silva.
É também nos anos 50 que Vasco Vieira da Costa elabora o Plano para a Baía de Luanda desenhando uma linha de edifícios que limitam o crescimento da cidade e, simultaneamente a abrem para a baía através da criação de uma extensa galeria ao nível do piso térreo que marca o embasamento criando um espaço de transição e um percurso confortável. O Mercado do Kinaxixe será um dos edifícios desenhado nos anos 50 que transformará a cidade de Luanda, organizando o espaço circundante com a sua geometria simples e reinventando o lugar.
Situado no Largo do Kinaxixe, área de expansão da cidade, o Mercado funcionou como um instrumento estruturante da área de expansão urbana de Luanda para Norte localizando-se no cruzamento de vias relevantes na organização da cidade, como a Avenida Comandante Valódia e a Rua Gamal Abdel Nasser, definindo-as, e limitando a fachada do largo do Kinaxixe, como um espaço público de encontro.
O Mercado do Kinaxixe afirmava-se como um edifício monumental paralelepipédico elevado do chão, cuja continuidade com a cidade era garantida através do piso térreo ajustado à topografia: pé direito duplo a nascente e piso intermédio a poente. Recuado em três lados, o piso térreo é desenhado com recurso a uma estrutura porticada de duplo pé direito, ocupado por espaços comerciais em relação directa com a cidade, o recuo relativamente ao plano da fachada protegia-os do sol. Na fachada Norte, o piso térreo avança para o limite da fachada e é desenhada uma rampa de acesso ao piso intermédio.
A planta de forma rectangular com 100 metros de comprimento por 60 metros de largura conforma dois pátios, em cotas distintas devido à inclinação do terreno, e em volta dos quais Vasco Vieira da Costa organiza todo o programa. No piso térreo os espaços comerciais virados para a cidade e os armazéns e serviços virados para o interior dos pátios, e no piso superior a área destinada à venda de produtos constituída por galerias de 6,5 metros de pé direito onde se localizavam as bancas fixas que organizavam o espaço.
Entre os dois pátios, no centro da composição, localizavam-se as entradas no Mercado, e organizavam-se as circulações verticais, escadas e elevadores, desde a cave até à cobertura em terraço, marcado por elementos escultóricos modernos, com vista sobre a cidade.
A pele exterior contínua definida por um brise-soleil de elementos verticais de betão assegurava a ventilação e o sombreamento de toda a galeria comercial no 1º piso, cuja continuidade era quebrada pela introdução linhas diagonais, rasgos horizontais, volumes escultóricos ou caixas de betão revestidas com pastilha vidrada de grande diversidade cromática.
Esta obra confirma a pesquisa de Vasco Vieira da Costa procede numa arquitectura capaz de responder eficazmente às condições climáticas procurando uma ventilação permanente aliada a um sombreamento dos espaços potenciando soluções formais expressivamente modernas. De acordo com Manuel Correia Fernandes, o Mercado do Kinaxixe “representou a síntese do Movimento Moderno na época da sua construção, e por isso considerado o ex-libris da arquitectura moderna em Angola. Foi, ainda, o “grito de liberdade” que, desafiando o regime colonial, impôs uma nova postura arquitectónica. Foi demolido em Agosto em 2008, com grande mágoa dos luandenses, que se habituaram a ver e a sentir esse “grito de liberdade”.”
Original de Maria João Teles Grilo
(FCT: PTDC/AUR-AQI/103229/2008)
Adaptação de Ana Tostões e Daniela Arnaut.
in: http://www.hpip.org/
"Kinaxixe O mercado que era um símbolo de Luanda já não existe
Autor do texto 22 de Setembro de 2008, 0:00
Entre as décadas de 40 e 60, vários arquitectos formados em Portugal construíram edifícios modernos em Angola. Aquele que era provavelmente o mais emblemático de todos, o Mercado do Kinaxixe, foi demolido e no seu lugar vai nascer um centro comercial com seis pisos e duas torres. Mas há outros exemplos desse "modernismo tropical". Por Alexandra Prado Coelho
Há um buraco vazio no meio de Luanda. Antes estava lá um mercado grande, que todos conheciam. Chamava-se Kinaxixe (alguns escreviam Qinaxixe outros Kinaxixi, mas todos sabiam do que falavam) e tinha sido construído, nos anos 50, por um arquitecto angolano de origem portuguesa, Vasco Vieira da Costa (1911-1982). Há cerca de um mês o Kinaxixe foi demolido, já não existe, e sabe-se que no vazio que deixou irá ser construído um centro comercial. Houve tentativas de travar o processo, houve indignações, mas o Kinaxixe, que fora construído entre 1950 e 52, veio mesmo abaixo. A Ordem dos Arquitectos de Angola insurgiu-se num manifesto: "Conhecido mundialmente como uma peça de arquitectura moderna notável, foi considerada pela UNESCO a hipótese de ser classificado património arquitectónico da Humanidade. Com lucidez e sabedoria o Kinaxixe seria o nosso "Edifício Manifesto": o corpo simbólico da nossa independência, do nosso grito de liberdade presente na cidade e de contestação ao regime colonial".
A arquitecta portuguesa Ana Magalhães fotografou o Kinaxixe em Julho, pouco antes da queda (são dela as imagens que acompanham este artigo). Era um dos edifícios - provavelmente o maior exemplo - da arquitectura moderna construída nas décadas de 40, 50 e 60 em Angola e também Moçambique (tema de um livro que Ana Magalhães está a preparar, e da sua tese de doutoramento intitulada Migração do Moderno - Arquitectura na Diáspora - Portugal, Brasil e África colonial (Moçambique e Angola), 1948-1974.
"É um tipo de arquitectura que fez escola", explica. "Quando se anda em Luanda praticamente não se vê a arquitectura mais colonial, porque o peso desta arquitectura dos anos 50 e 60 é tão forte que marca tudo". Percorrendo a cidade, a arquitecta foi fotografando esses edifícios - os que são referência e estão identificados, como o bloco da Mutamba, hoje Ministério das Obras Públicas (de Vasco Vieira da Costa) ou o edifício da Radiodifusão de Angola - e muitos outros, de arquitectos anónimos, mas que seguiram as linhas modernistas que a chamada "geração africana" lançou em Luanda e Maputo.
Viajou depois até ao Lobito, onde encontrou os edifícios construídos por Francisco Castro Rodrigues, o liceu, e a cine-esplanada Flamingo, que as fotografias da época mostram cheia de gente a ver os filmes projectados no grande ecrã, e que hoje está vazia, mas ainda preservada - sobretudo o chão, notou Ana Magalhães - e mantendo um charme decadente. Pelo meio do antigo cinema ao ar livre passam crianças pequenas, de mochilas às costas, a caminho de uma escola improvisada. Já não passam filmes, é possível até que alguém habite dentro da cabina de projecção, e no meio das paredes rosa e dos desenhos de flamingos as crianças sentam-se em pequeninas cadeiras de plástico a ouvir a professora.
Obras para clima tropical
Os arquitectos partiram - alguns deles já morreram, outros voltaram para Lisboa - os edifícios ficaram, atravessando períodos conturbados da história de Angola. Hoje são cada vez mais olhados como obras de arquitectura com um valor único. "É uma arquitectura que não tivemos em Portugal por circunstâncias específicas nossas", explica Ana Magalhães. Os arquitectos que estudaram em Portugal e que foram, nessa época, para Angola e Moçambique gozaram, por um lado, de "maior liberdade" e, por outro, tiveram "a possibilidade de fazer uma arquitectura tropical que aqui não seria possível".
Uma arquitectura que não precisava de se preocupar com o frio, mas que tinha que lidar com questões como a chuva ou a ventilação. "[Estes arquitectos] fizeram o que hoje designamos por arquitectura sustentável, que procura dar respostas não com a ortodoxia e ideias feitas, mas explorando os sombreados, criando lugares de circulação do ar, espaços de transição que não estão dentro nem fora", diz a arquitecta Ana Tostões, autora de vários livros sobre a arquitectura moderna portuguesa.
A arquitecta confirma que "em Portugal, na mesma época, não existe nada comparável", em grande parte porque "as encomendas institucionais eram altamente vigiadas", e só no final dos anos 50, graças às encomendas dos municípios, é que começamos a ter "obras mais arriscadas".
"O Vasco Vieira da Costa é um dos arquitectos da geração moderna que faz uma obra de alguma forma contra o regime", considera Ana Tostões, que é também representante de Portugal no Docomomo, organização internacional de defesa do património arquitectónico moderno. Aliás, defende, é precisamente no hemisfério Sul (em África, mas sobretudo no Brasil) que "a arquitectura moderna ganha grande liberdade e toma uma expressão brilhante como resposta a uma situação muito diferente da da Europa".
Passagem por Le Corbusier
Fernão Simões de Carvalho foi um desses arquitectos (e, no caso dele, também urbanista). Nascido em Luanda, estudou em Portugal e depois foi para Paris onde, numa mistura de coragem e algum descaramento, foi bater à porta do atelier do grande arquitecto Le Corbusier [com quem Vieira da Costa também trabalhou), propondo-se como estagiário - e conseguiu lá ficar durante quatro anos. Foi só em 1959/60 que voltou para Angola e começou a trabalhar para a Câmara Municipal de Luanda.
Ao contrário de outros colegas, Simões de Carvalho não saíra de Portugal por razões políticas, por isso não sentiu que em Luanda houvesse mais liberdade para fazer arquitectura do que havia, na mesma altura, em Lisboa ou no Porto. "Nunca me impuseram soluções, nem lá nem cá. Aliás, nunca me meti na política, a minha política é o urbanismo". Mas concorda que os edifícios que ali nasceram naquela época têm características especiais. "Os quebra-sóis, as protecções solares, as varandas... qualquer arquitecto tem que fazer arquitectura adaptada ao clima. Se é no interior é de uma maneira, se é na faixa marítima é de outra. Claro que havia ali soluções que não fariam sentido para a Avenida António Augusto de Aguiar, por exemplo".
Regressou a Portugal em 67, e depois do 25 de Abril foi para o Brasil - "o país onde fui mais acarinhado, onde trabalhei mais, projectei três cidades". A Angola não voltou. Sabe que o plano director que fizera para a cidade nunca chegou a ser aplicado, desconhece se alguns dos projectos que desenhou chegaram ou não a ser construídos, mas sabe que o edifício da Radiodifusão, que fez com José Pinto da Cunha e Fernando Alfredo Pereira e de que muito se orgulha, é tratado com carinho pelos luandenses e é também para eles um motivo de orgulho na cidade.
Um "shopping multiusos"
Mas também ouviu coisas menos positivas. "Tenho notícia de algumas asneiras que fizeram lá, prédios altos no centro da cidade, quando os prédios altos equivalem a muito mais automóveis. A baixa de Luanda está atulhada de arranha-céus e assim ninguém pode circular".
A estes juntar-se-á, nos próximos quatro anos (tempo previsto para a construção) o centro comercial que ocupará o lugar do Kinaxixe e que o Semanário Angolense, a partir de uma conversa com o director técnico do projecto, Luciano Dzik, descreve como "um shopping multiusos com seis pisos e duas torres comerciais situadas nas laterais norte e sul, com 20 pisos cada" e que terá ainda uma cave de cinco pisos destinada ao estacionamento. O Shopping Center Kinaxixe terá 200 lojas, sete salas de cinema e um piso inteiro para restauração. Quanto às duas torres, destinam-se a escritórios e terão caves com dois mil lugares de estacionamento.
O Semanário Luandense explica que há quatro anos, quando o Grupo Macon (ligado aos transportes públicos) recebeu a concessão sobre o Kinaxixe, chegou a organizar uma gala para apresentar, em tecnologia digital, o novo centro comercial. Mas durante quatro anos nada aconteceu. Segundo Dzik, foi o tempo necessário para o "aprimoramento" do projecto e a sua adaptação à "realidade actual". "O desenho do shopping daquela época [há quatro anos] seria inadequado para os dias de hoje", afirmou ao jornal. Grande parte do debate durante esse período teve a ver com a possibilidade de se aproveitar a estrutura original do Kinaxixe - hipótese que acabou por ser afastada.
Desapareceu, portanto, o velho mercado de Luanda, peça essencial de uma arquitectura a que começa agora a dar-se o devido valor. Mas qual é o nosso olhar - de portugueses - hoje sobre este património? O manifesto da Ordem dos Arquitectos de Angola diz claramente: "Os edifícios nas cidades são marcos da identidade civilizacional dos povos", e, mais à frente, "Vasco Vieira da Costa era um Arquitecto Angolano (alguém diria... 'mas nasceu em Aveiro'... mas quantos angolanos nasceram e nascem em Londres, Paris, Joanesburgo ou Rio de Janeiro?)". Os subscritores deste manifesto vêem o Kinaxixe como um edifício "que se queria assumir como um grito de liberdade e oposição ao regime colonial português" e que "desafiava o regime pela imposição de uma nova postura da arquitectura".
João Rodeia, presidente da Ordem dos Arquitectos portuguesa, (mas que faz estas declarações ao P2 a título individual) defende que temos que olhar para estes edifícios como "uma coisa que não é nossa, é património dos países onde está, mas que tem uma ligação com a nossa cultura arquitectónica". Estamos, portanto, perante uma arquitectura que é "por um lado internacional, porque acrescenta novas lições ao movimento moderno, tem alguma raiz portuguesa dada a formação dos seus autores, mas é sobretudo arquitectura africana dentro da modernidade".
O Kinaxixe pertencia - como pertencem outros edifícios - à ideia de uma Luanda "cosmopolita, aberta ao mundo, sofisticada", sublinha Rodeia. "Numa altura em que as cidades competem entre si através das diferenças, uma cidade com ambição não pode dar-se ao luxo de atirar para o lixo um edifício que atrairia turismo especializado e a colocaria na rota do mundo".
A arquitecta portuguesa Ana Magalhães fotografou o Kinaxixe em Julho, pouco antes da queda (são dela as imagens que acompanham este artigo). Era um dos edifícios - provavelmente o maior exemplo - da arquitectura moderna construída nas décadas de 40, 50 e 60 em Angola e também Moçambique (tema de um livro que Ana Magalhães está a preparar, e da sua tese de doutoramento intitulada Migração do Moderno - Arquitectura na Diáspora - Portugal, Brasil e África colonial (Moçambique e Angola), 1948-1974.
"É um tipo de arquitectura que fez escola", explica. "Quando se anda em Luanda praticamente não se vê a arquitectura mais colonial, porque o peso desta arquitectura dos anos 50 e 60 é tão forte que marca tudo". Percorrendo a cidade, a arquitecta foi fotografando esses edifícios - os que são referência e estão identificados, como o bloco da Mutamba, hoje Ministério das Obras Públicas (de Vasco Vieira da Costa) ou o edifício da Radiodifusão de Angola - e muitos outros, de arquitectos anónimos, mas que seguiram as linhas modernistas que a chamada "geração africana" lançou em Luanda e Maputo.
Viajou depois até ao Lobito, onde encontrou os edifícios construídos por Francisco Castro Rodrigues, o liceu, e a cine-esplanada Flamingo, que as fotografias da época mostram cheia de gente a ver os filmes projectados no grande ecrã, e que hoje está vazia, mas ainda preservada - sobretudo o chão, notou Ana Magalhães - e mantendo um charme decadente. Pelo meio do antigo cinema ao ar livre passam crianças pequenas, de mochilas às costas, a caminho de uma escola improvisada. Já não passam filmes, é possível até que alguém habite dentro da cabina de projecção, e no meio das paredes rosa e dos desenhos de flamingos as crianças sentam-se em pequeninas cadeiras de plástico a ouvir a professora.
Obras para clima tropical
Os arquitectos partiram - alguns deles já morreram, outros voltaram para Lisboa - os edifícios ficaram, atravessando períodos conturbados da história de Angola. Hoje são cada vez mais olhados como obras de arquitectura com um valor único. "É uma arquitectura que não tivemos em Portugal por circunstâncias específicas nossas", explica Ana Magalhães. Os arquitectos que estudaram em Portugal e que foram, nessa época, para Angola e Moçambique gozaram, por um lado, de "maior liberdade" e, por outro, tiveram "a possibilidade de fazer uma arquitectura tropical que aqui não seria possível".
Uma arquitectura que não precisava de se preocupar com o frio, mas que tinha que lidar com questões como a chuva ou a ventilação. "[Estes arquitectos] fizeram o que hoje designamos por arquitectura sustentável, que procura dar respostas não com a ortodoxia e ideias feitas, mas explorando os sombreados, criando lugares de circulação do ar, espaços de transição que não estão dentro nem fora", diz a arquitecta Ana Tostões, autora de vários livros sobre a arquitectura moderna portuguesa.
A arquitecta confirma que "em Portugal, na mesma época, não existe nada comparável", em grande parte porque "as encomendas institucionais eram altamente vigiadas", e só no final dos anos 50, graças às encomendas dos municípios, é que começamos a ter "obras mais arriscadas".
"O Vasco Vieira da Costa é um dos arquitectos da geração moderna que faz uma obra de alguma forma contra o regime", considera Ana Tostões, que é também representante de Portugal no Docomomo, organização internacional de defesa do património arquitectónico moderno. Aliás, defende, é precisamente no hemisfério Sul (em África, mas sobretudo no Brasil) que "a arquitectura moderna ganha grande liberdade e toma uma expressão brilhante como resposta a uma situação muito diferente da da Europa".
Passagem por Le Corbusier
Fernão Simões de Carvalho foi um desses arquitectos (e, no caso dele, também urbanista). Nascido em Luanda, estudou em Portugal e depois foi para Paris onde, numa mistura de coragem e algum descaramento, foi bater à porta do atelier do grande arquitecto Le Corbusier [com quem Vieira da Costa também trabalhou), propondo-se como estagiário - e conseguiu lá ficar durante quatro anos. Foi só em 1959/60 que voltou para Angola e começou a trabalhar para a Câmara Municipal de Luanda.
Ao contrário de outros colegas, Simões de Carvalho não saíra de Portugal por razões políticas, por isso não sentiu que em Luanda houvesse mais liberdade para fazer arquitectura do que havia, na mesma altura, em Lisboa ou no Porto. "Nunca me impuseram soluções, nem lá nem cá. Aliás, nunca me meti na política, a minha política é o urbanismo". Mas concorda que os edifícios que ali nasceram naquela época têm características especiais. "Os quebra-sóis, as protecções solares, as varandas... qualquer arquitecto tem que fazer arquitectura adaptada ao clima. Se é no interior é de uma maneira, se é na faixa marítima é de outra. Claro que havia ali soluções que não fariam sentido para a Avenida António Augusto de Aguiar, por exemplo".
Regressou a Portugal em 67, e depois do 25 de Abril foi para o Brasil - "o país onde fui mais acarinhado, onde trabalhei mais, projectei três cidades". A Angola não voltou. Sabe que o plano director que fizera para a cidade nunca chegou a ser aplicado, desconhece se alguns dos projectos que desenhou chegaram ou não a ser construídos, mas sabe que o edifício da Radiodifusão, que fez com José Pinto da Cunha e Fernando Alfredo Pereira e de que muito se orgulha, é tratado com carinho pelos luandenses e é também para eles um motivo de orgulho na cidade.
Um "shopping multiusos"
Mas também ouviu coisas menos positivas. "Tenho notícia de algumas asneiras que fizeram lá, prédios altos no centro da cidade, quando os prédios altos equivalem a muito mais automóveis. A baixa de Luanda está atulhada de arranha-céus e assim ninguém pode circular".
A estes juntar-se-á, nos próximos quatro anos (tempo previsto para a construção) o centro comercial que ocupará o lugar do Kinaxixe e que o Semanário Angolense, a partir de uma conversa com o director técnico do projecto, Luciano Dzik, descreve como "um shopping multiusos com seis pisos e duas torres comerciais situadas nas laterais norte e sul, com 20 pisos cada" e que terá ainda uma cave de cinco pisos destinada ao estacionamento. O Shopping Center Kinaxixe terá 200 lojas, sete salas de cinema e um piso inteiro para restauração. Quanto às duas torres, destinam-se a escritórios e terão caves com dois mil lugares de estacionamento.
O Semanário Luandense explica que há quatro anos, quando o Grupo Macon (ligado aos transportes públicos) recebeu a concessão sobre o Kinaxixe, chegou a organizar uma gala para apresentar, em tecnologia digital, o novo centro comercial. Mas durante quatro anos nada aconteceu. Segundo Dzik, foi o tempo necessário para o "aprimoramento" do projecto e a sua adaptação à "realidade actual". "O desenho do shopping daquela época [há quatro anos] seria inadequado para os dias de hoje", afirmou ao jornal. Grande parte do debate durante esse período teve a ver com a possibilidade de se aproveitar a estrutura original do Kinaxixe - hipótese que acabou por ser afastada.
Desapareceu, portanto, o velho mercado de Luanda, peça essencial de uma arquitectura a que começa agora a dar-se o devido valor. Mas qual é o nosso olhar - de portugueses - hoje sobre este património? O manifesto da Ordem dos Arquitectos de Angola diz claramente: "Os edifícios nas cidades são marcos da identidade civilizacional dos povos", e, mais à frente, "Vasco Vieira da Costa era um Arquitecto Angolano (alguém diria... 'mas nasceu em Aveiro'... mas quantos angolanos nasceram e nascem em Londres, Paris, Joanesburgo ou Rio de Janeiro?)". Os subscritores deste manifesto vêem o Kinaxixe como um edifício "que se queria assumir como um grito de liberdade e oposição ao regime colonial português" e que "desafiava o regime pela imposição de uma nova postura da arquitectura".
João Rodeia, presidente da Ordem dos Arquitectos portuguesa, (mas que faz estas declarações ao P2 a título individual) defende que temos que olhar para estes edifícios como "uma coisa que não é nossa, é património dos países onde está, mas que tem uma ligação com a nossa cultura arquitectónica". Estamos, portanto, perante uma arquitectura que é "por um lado internacional, porque acrescenta novas lições ao movimento moderno, tem alguma raiz portuguesa dada a formação dos seus autores, mas é sobretudo arquitectura africana dentro da modernidade".
O Kinaxixe pertencia - como pertencem outros edifícios - à ideia de uma Luanda "cosmopolita, aberta ao mundo, sofisticada", sublinha Rodeia. "Numa altura em que as cidades competem entre si através das diferenças, uma cidade com ambição não pode dar-se ao luxo de atirar para o lixo um edifício que atrairia turismo especializado e a colocaria na rota do mundo".
in: jornal "Publico"
......
Rádio Nacional de Angola (ex- Emissora Oficial de Angola)
Rádio Nacional de Angola (antigo Centro de Radiodifusão de Angola)
Rádio Nacional de Angola
Luanda [São Paulo de Luanda], Luanda, Angola
Equipamentos e infraestruturas
Edifício desenhado e construído entre 1963 e 1967, segundo projeto do arquiteto Fernão Lopes Simões de Carvalho, com colaboração de José Pinto da Cunha e Fernando Alfredo Pereira. Representa, sem margem de dúvida, a liberdade conceptual da linguagem arquitetónica do Movimento Moderno. Os espaços vão‐se multiplicando entre ambientes abertos, com jardins interiores e água, elementos fundamentais de conforto. A entrada principal é ensombrada por uma arrojada pala em betão, elemento de grande impacto visual.
Localizado na parte alta da cidade, foi projetado como um conjunto de edifícios autónomos, apenas parcialmente edificado, tendo no bloco de estúdios o seu elemento referencial. Dimensionado segundo as regras do Modulor, este vasto prisma de um piso tem a cobertura pontuada por volumes salientes e vazios correspondentes a pátios de iluminação e ventilação. As suas fachadas denotam a influência da arquitetura de Le Corbusier na expressividade do betão aparente e no jogo de luz e sombra protagonizado pelos profundos brise‐soleil de composição dominantemente vertical ou em malha alternada de lâminas verticais e horizontais. Nas instalações existentes funciona atualmente a Rádio Nacional de Angola.
Elisiário Miranda
in: http://www.hpip.org/